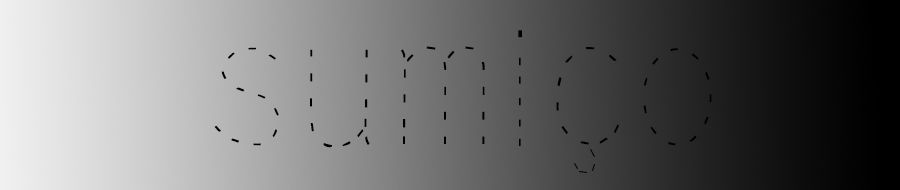O quarto de Davi é na sala de estar, no térreo. Sua cama fica perto da cozinha, embaixo de uma escada de alvenaria que leva ao segundo andar da casa, onde há dois dormitórios e um banheiro que o menino de 12 anos não tem como frequentar. Por isso, além de bibelôs e televisão, o rack da sala abriga livros e brinquedos que ele e seu irmão gêmeo, Daniel, compartilham. Além dos preciosos computador e videogame. É com dedos e olhos vidrados nos dois aparelhos que principalmente Davi quase sempre se diverte.
Essa não é a primeira vez que a sala é transformada em quarto. Há 22 anos, Antônio Carlos, tio dos gêmeos, dormia no mesmo lugar onde atualmente está a cama de Davi. Faleceu aos 18. Também tinha Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).
As distrofias compõem o principal grupo das doenças genéticas do gênero neuromusculares. Dos nove tipos já identificados, Duchenne é a mais frequente e também a mais grave. Estima-se que para cada 3.500 meninos que nascem no Brasil, um sofre de DMD. Mais de 100 crianças nascem com a doença, a cada ano, só na cidade de São Paulo. A incidência é maior do que câncer infantil, por exemplo, com uma taxa de um para 4.500 nascimentos masculinos, segundo o Instituto Nacional do Câncer.
A doença é caracterizada pela degeneração progressiva e irreversível dos músculos. Até hoje, não há cura ou tratamento efetivo que detenha a doença. Apesar disso, nos últimos anos, surgiu uma série de procedimentos capazes de melhorar algumas de suas complicações ou, pelo menos, tornar mais lento seu avançar inevitável. Mas poucos têm acesso.
Antônio Carlos era seis anos mais novo que a irmã Carmen, mãe de Davi e Daniel. Ainda pequenos, foram matriculados na mesma escola. Ele não ficou muito tempo, “porque você sabe como era a educação naquela época, ninguém falava em inclusão”, conta Carmen. Um dia, a diretora acusou o menino de ter fugido da escola. “Antônio realmente saía da sala de aula e muitas vezes ficava no corredor... agora, um menino com distrofia, pular o portão, andar pelas ruas até chegar em casa, é difícil de acreditar”. Teresa, a mãe, ainda tentou argumentar, dizendo que ela mesma tinha ido buscar o filho no dia, e a diretora não a deixou falar. Revoltada, tirou Antônio Carlos da escola. Ele não voltaria a estudar.
Apenas com 15 anos, com o organismo já muito comprometido, o rapaz descobriu que tinha DMD. A notícia veio depois que Carmen foi orientada por um médico a levar toda a família para fazer uma análise genética no Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo (USP).
O diagnóstico permitiu que algumas histórias familiares fizessem mais sentido. Uma tia de Carmen e Antônio Carlos, por exemplo, também teve dois filhos que apresentavam as características da distrofia. Um outro tio morreu ainda criança depois de levar um chute do pai por ser “fraco e imprestável para a lavoura de milho”.
Histórias semelhantes às da família de Carmen povoam parte dos aproximadamente 26.500 casos documentados pelo Genoma Humano desde sua fundação, em 2000. A instituição é especializada em pesquisas genéticas e considerada uma referência em células-tronco. Seus médicos e pesquisadores são responsáveis também pelo diagnóstico de enfermidades complexas, dentre elas a DMD, e pelo aconselhamento das famílias de portadores. O Genoma Humano recebe pacientes de norte a sul do país, que frequentemente estão há anos peregrinando em busca de respostas que esclareçam sintomas que poucos médicos sabem diagnosticar. Para todos aqueles que não têm como dar continuidade a um tratamento em São Paulo, a equipe propõe reavaliações anuais e deixa orientações escritas com a família, torcendo para que elas sejam seguidas de alguma forma pelos profissionais da saúde de suas cidades de origem.
A DMD foi uma das primeiras enfermidades neuromusculares a ser minuciosamente estudada, já no século XIX, graças aos esforços do médico francês que daria origem à seu nome: Guillaume Duchenne (1806-1875), considerado um dos pais da neurociência e pioneiro das eletroterapias.
Durante décadas se investigou a causa da doença, mas só com os avanços da genética os pesquisadores foram capazes de constatar que a degeneração muscular ocorria graças a um defeito no maior gene da espécie humana. Por conta dele, a síntese da proteína distrofina, fundamental para o tecido muscular, não ocorre. Apesar do gene estar localizado no cromossomo sexual feminino - o X - a doença afeta o sexo masculino em 99% dos casos. As mulheres compensam o defeito no gene da distrofina com o seu segundo cromossomo sexual X. No caso dos homens, que são XY, não há essa compensação. Mas mesmo não desenvolvendo a doença, as mulheres continuam sendo portadoras. Em ⅓ dos casos de DMD, ela surge por conta de uma mutação no próprio indivíduo - a chamada “mutação nova”. Mas nos outros ⅔, é o cromossomo X da mãe que transmite a distrofia para o filho. Do pai, a criança carrega apenas o Y.
“Mesmo sabendo que eu tinha 50% de chance de ter um filho com distrofia, quis arriscar”, conta Carmen. Ela chegou a ser orientada por uma médica de que durante a gestação já poderia descobrir se a criança seria ou não distrófica. Carmen não optou pelo exame, “porque eu não ia tirar meu filho de forma alguma. Sou contra aborto. Com ou sem doença, queria que ele vivesse”.
O marido de Carmen, José, conheceu Antônio Carlos e foi, inclusive, quem construiu a cama do rapaz. Ele sempre soube que a esposa era portadora da doença. Por isso, depois de se casaram em 1992, ainda passaram oito anos refletindo sobre ter filhos. Cogitaram adoção. “Acho um ato muito nobre. Mas eu queria ter um filho meu”, diz Carmen. José, de brincadeira, chegou a dizer que faria um filho fora e traria de volta para os dois criarem.
Quando decidiram arriscar, a gravidez demorou dois anos para acontecer. Nesse meio tempo, Carmen, então com 36 anos, diz que já tinha se conformado em não ter filhos e começou um curso de Auxiliar de Enfermagem. Três meses depois, engravidou. De gêmeos. Para evitar pensar na possibilidade de ter filhos com distrofia, sequer falou para o obstetra sobre a doença. Também tinha medo de que ele lhe sugerisse tirar as crianças.
Os meninos nasceram de parto natural, sem complicações. Quando completaram dois anos, Carmen voltou a procurar o Genoma Humano para descobrir se Davi, o mais fraquinho, tinha distrofia. “Quando recebi a confirmação, só conseguia sentir culpa. Doeu demais”. Quanto ao pai, disse que não sabia se ia aguentar ver o filho ir para uma cadeira de rodas. Estão juntos até hoje, contrariando dados que apontam que cerca de 70% dos pais se separam por conta da doença. Mas evitam conversar sobre o assunto. “A gente vai vivendo a vida. Cada dia é um dia”.
***
Fernando Angelo está em tratamento na Associação Brasileira de Distrofia Muscular (ABDIM) há 25 anos. Quando começou, sua expectativa de vida era de 16. Com 33 anos de idade, ele é o paciente de Duchenne mais velho da instituição.
Sua sobrevida é associada especialmente aos tratamentos preventivos oferecidos pela ABDIM, sediada em São Paulo. Por meio de uma equipe multidisciplinar, os pacientes têm acesso à reabilitação, tratamentos clínicos e orientações nutricionais, além de assistência educacional e serviço social. Atualmente são atendidos cerca de 100 pacientes de famílias humildes da região metropolitana de São Paulo - o que representa apenas 5% da população carente afetada pela doença. Mas a expectativa é a ampliação da rede de atendimento e da própria sede, por conta de uma parceria firmada com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), em curso desde 2007.
A ABDIM é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1981, com sede inaugurada sete anos depois, envolvida também na implantação de políticas públicas e na pesquisa a respeito das distrofia. Mantém vínculos estreitos com o Genoma Humano. Ambas as instituições são resultado do empenho da geneticista Mayana Zatz, professora da USP, em melhorar a qualidade de vida de quem sofre com doenças genéticas, especialmente distrofias musculares. Além disso, os pacientes da ABDIM costumam passar por uma triagem prévia no Genoma Humano, para só depois terem direito à assistência na associação.
No Brasil, não há outro estabelecimento que ofereça atendimento integral aos distróficos. O Hospital das Clínicas de São Paulo e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, por exemplo, são algumas das instituições que também oferecem tratamento, mas não da mesma forma intensiva. No mais, as famílias encontram apoio em algumas associações, como a Organização de Apoio aos Portadores de Distrofias (OAPD), a Associação de Doenças Neuromusculares de Mato Grosso do Sul (ADONE), a Associação Gaúcha de Distrofia Muscular (AGADIM) e a Associação Carioca de Distrofia Muscular (ACADIM).
Nem Ivan nem Helena, pai e mãe do rapaz, lembram-se de qualquer caso na família parecido com o de Fernando. Por isso, só quando o menino tinha sete anos chegaram ao diagnóstico. Anos antes ele já apresentava parte das características mais comuns de Duchenne: aos quatro anos, Fernando já não conseguia subir escadas. Caía com frequência e para se levantar tinha que recorrer a uma manobra típica da doença chamada sinal de Gowers: a criança faz um rolamento, ajoelha-se, apoia-se no chão com os dois antebraços e levanta-se com dificuldade colocando as mãos nos joelhos. O menino tinha as batatas das pernas engrossadas (Pseudohipertrofia da panturrilha) e andava na ponta dos pés. A solução indicada por um ortopedista foi fazer Fernando passar por uma cirurgia para estender os tendões dos pés - que por conta da doença, retraem progressivamente. Por desconhecer a distrofia, o médico com certeza não imaginava que, além de ter indicado um tratamento inútil, tinha arriscado a vida do menino com uma anestesia. Isso aconteceu há quase 30 anos, “mas até hoje tem muito médico que desconhece a doença”, dizem os três, quase em uníssono.
Fernando parou de andar aos 12 anos e conta que precisou de um tempo para se adaptar e superar a vergonha de estar em uma cadeira de rodas. Durante anos, o rapaz conseguiu manter a autonomia para muitas coisas, como jogar videogame e se alimentar, mas com o avanço da doença passou a depender mais e mais da ajuda de equipamentos especiais e dos pais. “Cada fase da doença significa um reaprendizado para meu filho”, comenta Ivan, enquanto reposiciona as mãos agora quase inertes de Fernando, que repousam no próprio colo.
A dificuldade para entendê-lo é grande, por conta do aparelho que usa ininterruptamente para respirar desde 2006, um ventilador volumétrico T Bird Vs3. Revendo as gravações que fiz de todos os nossos encontros, percebi que pedia diversas vezes para que ele repetisse suas ideias. Cada uma ou duas de suas palavras vinham alternadas com uma profunda inspiração. Minha sensação era a de que seu raciocínio estava sempre escapando por um triz de se afogar, em meio ao inflar e desinflar do aparelho.
“Minha vida depende do volumétrico. Mas não foi fácil me acostumar, tanto para respirar quanto para comer”, conta o rapaz, que chegou a pesar 25 kg. Com 1,65 m, Fernando pesa atualmente 33 kg. Come sempre lentamente pequenas porções pastosas e usa canudo para beber, para não se engasgar: “gosto de sorvete, fondue e feijoada!”

“Estamos atualmente lutando para que o volumétrico seja cedido pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, conta Ivan. Ele faz parte de um grupo de pais que entrou com um mandado judicial contra a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo para garantir a liberação do aparelho.
Atualmente, apenas o BiPaP - também chamado de ventilador bilevel, que funciona à pressão - é fornecido pelo governo por meio das portarias federais 370 e 1370, ambas de 2008. No entanto, há um momento em que a insuficiência respiratória se agrava tanto que apenas um modelo volumétrico é capaz de dar conta. Nos EUA, por exemplo, o BiPaP é usado somente em emergências, já que os distróficos recorrem ao volumétrico assim que os primeiros sintomas surgem.
O governo alega que todos os equipamentos de suporte ventilatório não invasivo são semelhantes, apesar dos laudos médicos apontarem o contrário. “Não é uma questão de grife”, diz Fernando, enquanto seu pai engrossa o tom: “Dizem que queremos onerar a saúde. Onerar é colocar meu filho em uma UTI [Unidade de Terapia Intensiva] ou exigir que o Estado pague por um cuidador para ele”.
De acordo com Ana Lucia Langer, diretora clínica da ABDIM e médica do Genoma Humano, a Secretaria começou recentemente a ligar para as famílias, com a promessa de distribuir o aparelho. No entanto, a exigência de muitos exames caros e complexos está atrasando o processo. “Parece que querem nos cansar pelas vias burocráticas”, disse a médica.
Foi por conta dessa luta que tive a oportunidade de conhecer não apenas as famílias de Davi e Fernando, mas também a de um terceiro menino chamado João Pedro. Ele morreu em 2012, um ano e três meses antes do dia em que a Avenida Paulista, uma das principais vias da metrópole São Paulo, foi tomada por mais uma manifestação, com direito a cartazes, apitos e gritos de protesto. Mas dessa vez até os policiais que controlavam o trânsito e os manifestantes, se emocionaram. Dezenas de mães e meninos de diversas idades, em suas cadeiras de rodas, interromperam o ir e vir de uma avenida que não para nem nas manhãs dominicais. Foi exatamente em um domingo, o dia 15 de setembro, antecedendo em 48 horas o Dia da Conscientização Sobre as Distrofias Musculares, que um grupo de aproximadamente 200 pessoas se reuniu pela terceira vez para divulgar a doença, tratamentos, instituições de apoio e a atual luta pelo direito ao volumétrico.

Apesar de terem perdido o filho João Pedro, Elisangela e Gerson fizeram questão de participar do evento, ajudando inclusive na organização. Há sete anos o casal frequenta as reuniões mensais da Associação Paulista de Distrofia Muscular, na sede do Genoma Humano. Organizado por pais, sob a tutela da médica Ana Lucia, o pequeno grupo reúne aproximadamente 10 famílias e esteve à frente da manifestação no domingo. No dia, em meio à correria, Elisangela só teve tempo para me contar que seu filho tinha morrido com oito anos de idade. Fiquei intrigada com a história. Afinal, a expectativa de vida de distróficos com Duchenne atualmente passa dos 30 anos, graças aos avanços nas terapias preventivas. Mesmo no passado, os meninos chegavam à adolescência. Quis entender porque João Pedro tinha partido tão prematuramente.
Fiz um telefonema. Ouvi de Elisangela mais um detalhe inesperado: além de portadora da distrofia, ela é sintomática. Em geral, as mulheres que carregam o gene defeituoso - mães e irmãs, especialmente - precisam ficar alertas apenas com sua função cardíaca. No entanto, estima-se que de 5 a 10% delas manifestam outros problemas. Felizmente, em praticamente todos os casos, o avanço da distrofia é muito mais lento do que nos homens. Os sinais de fraqueza costumam aparecer na idade adulta, e evoluem pouco. No caso de Elisangela, falta-lhe firmeza nas pernas. Tem dificuldade para subir escadas e se levantar depois de agachar.
Quando estava no magistério, ela era goleira no time profissional de handebol do município de Suzano (SP). Só sentia dificuldade quando precisava acompanhar a corrida de aquecimento com as outras jogadoras. Começou a procurar médicos apenas três anos depois de entrar na faculdade de Biologia, “quando notei uma grande dificuldade para subir no fretado e passei a cair sem motivo no meio da rua”.
Dois ortopedistas falaram que a causa seria “pés pequenos”. Outro médico diagnosticou como sequela de uma queda na infância a escoliose que observou na coluna de Elisangela, típica e progressiva nos distróficos devido à fraqueza muscular na região do tronco. Seguiram-se muitos outros palpites, todos incorretos, até a chegada de João Pedro.
“Ele era muito molinho”, relembra Elisangela. Por indicação do pediatra, João foi avaliado por uma neurologista quando tinha sete meses de idade. A médica percebeu que era Duchenne e contou para a mãe sem grandes rodeios, sem sequer ter um exame detalhado nas mãos. Não esperava que Elisangela tivesse estudado síndromes na faculdade: “a senhora está dizendo que meu filho não vai andar?”.
O diagnóstico final foi dado pelo Genoma Humano, quando João Pedro tinha um ano de idade. “Descobri a minha distrofia junto com a do meu filho. Não há casos na minha família. Carrego uma mutação nova.”
***
Há um ano e meio, a família dos gêmeos Davi e Daniel ganhou uma nova integrante. Foi Davi quem me perguntou se eu queria conhecer de perto a vira-lata Saskia. Ela é absolutamente elétrica. Pula para todos os lados, o tempo todo. “Com o Daniel, ela ‘taca’ fogo”, conta Carmen, “mas com o Davi é bem diferente, ela é mais tranquila, parece que sente”. Bastou vê-la subir sem alvoroço no colo do menino, que estava na cadeira de rodas, para eu confirmar o cuidado especial que a cadela parece ter com ele.
Na cozinha há uma cadeira de rodas reserva. Ao lado da cama fica um apoio de madeira cedido por um pai de outro menino com distrofia. O aparelho foi projetado para controlar o encolhimento dos joelhos: todo dia, no final da tarde, Davi fica em pé ao menos 20 minutos apoiado com uma órtese tipo goteira e tala. “O joelho dele encurtou ainda mais, o braço já não sobe como antes. A doença progride, por mais que você faça as terapias”, lamenta a mãe.
Com a fraqueza muscular, além da perda de capacidade motora, há o comprometimento de diversas funções vitais como respiração, circulação e digestão. Aproximadamente 30% dos distróficos também tem a cognição alterada, com diferentes graus de deficiência intelectual e comportamental.
Davi tem dificuldades para aprender. Aos 12 anos, está na 3a série - ou 4o ano pelo novo sistema de ensino fundamental - enquanto seu irmão gêmeo cursa a 6ª série – ou 7º ano. Semanalmente, além do acompanhamento multidisciplinar para reabilitação na ABDIM, o menino vai ao dentista, ao psicólogo e à AACD para se consultar com um psiquiatra e um neurologista.
“Eu acredito em milagre e creio que Deus possa curar meu filho. Afinal, é Ele quem dá sabedoria aos cientistas e médicos. Mas enquanto a cura não chega, faço tudo o que estiver ao meu alcance”. Carmen frequenta uma igreja evangélica todos os domingos de manhã e algumas quartas, “para ouvir a palavra. É assim que encontro forças para não desistir da batalha”.
Quanto a Elisangela e Gerson, dizem nunca ter se apegado a uma certeza de cura. “Acreditávamos só em melhoras”, conta Gerson, “em grande parte porque a ciência é lenta. Um cientista tenta derrubar o outro por causa de orgulho; os pesquisadores se recusam a conversar, para não perderem a chance de descobrir sozinhos algo inédito”.
João Pedro morreu no dia 6 de Junho de 2012, após ser internado com pneumonia em um hospital particular, passar por um atendimento inapropriado e pegar uma infecção hospitalar. “A maioria dos médicos não sabe agir com crianças distróficas”, afirma Elisangela, “um dos que atendeu meu filho chegou a falar: ‘coloca esse menino para andar, ele já tá melhor’. E a cadeira de rodas, parada, do lado dele”.
Pneumonia e outras doenças respiratórias são as principais causas de óbito entre os distróficos, seguidas por problemas cardíacos. Tudo por conta da fraqueza muscular que atinge pulmões e coração. Já bem cedo, as crianças têm dificuldades para tossir e expelir as secreções que se formam durante um processo infeccioso. A recomendação dos especialistas para esses casos é o auxílio manual com Ambu (uma máscara para reanimação) ou o uso de um aparelho chamado Cough Assist, em contraposição à aspiração por sonda, método considerado muito invasivo e arriscado. Elisangela diz ter solicitado o aparelho, sem sucesso. “No fim, fizeram uma aspiração que contribuiu para que meu filho pegasse uma infecção. É muito difícil dialogar com os médicos”.
João ficou internado por seis dias, após os outros 20 em que a mãe tentou controlar sozinha o avanço da pneumonia em casa. O menino já tinha tido outras duas vezes a doença, e sempre ficava bom antes de precisar ir para um hospital. Mas, dessa vez, Elisangela não pôde contar com a ajuda da fisioterapeuta com manobras que ajudavam João a expelir o catarro dos pulmões.
O menino dizia que “papai do céu” iria curá-lo quando tivesse sete anos. “Ele vai lhe curar quando achar que é o tempo certo, filho”. Nada lhe tirava a convicção. Dizia que com sete iria andar, correr e voar. “Voar? João, ninguém voa”. Quando morreu, faltavam 15 dias para ele completar oito anos. “Não era a cura que queríamos. Mas João estava certo”, relembra a mãe.

***
Fernando mora com a mãe e o pai no Jardim Turíbio, bairro simples de Osasco que, por seu relevo acidentado, oferece uma vista muito ampla de toda a cidade. A casa dá de costas para um barranco e tem dois andares. No primeiro, fica a garagem. Todos os cômodos estão no segundo andar. Sala, cozinha, banheiro, quarto e balcão. No final de 2011, um elevador terminou de ser construído, ligando o térreo à sacada. Foi um investimento que rompeu uma rotina extenuante de mais de 20 anos, durante os quais Ivan precisou carregar Fernando e a cadeira de rodas pela escada toda vez que saiam ou voltavam para casa.
A cama de Fernando fica ao lado da do casal. Ele chama pelo pai ou pela mãe no mínimo seis vezes por noite, para virá-lo. Lado esquerdo, barriga pra cima, lado direito. Barriga pra cima, lado esquerdo, barriga pra cima. Há anos ninguém da família tem uma noite de descanso sem interrupções. “Mas é esse cuidado que evita que ele tenha escaras”, orgulha-se Ivan. O rapaz depende do volumétrico para respirar o tempo todo. Na hora de dormir, é necessário trocar a máscara - a chamada interface - por uma que cobre mais o rosto, como forma de garantir que ele não fique sem ar sob qualquer hipótese.
A cabeceira foi transformada em uma central de emergência: há duas baterias reservas para o volumétrico, um no-break para uma eventual falta de luz, um pequeno armário com remédios e um aparelho BiPaP sempre ligado na tomada. Ao lado da cama fica uma mala de rodinhas repleta de outros itens que acompanha a família toda vez que saem de casa. Lá estão guardadas ferramentas, cabos, outro aparelho BiPaP, peças sobressalientes do volumétrico, lanterna, máscaras, papagaio para urinar, bateria extra, carregador, ambu e extensão.
Do teto do quarto, presa a uma pequena roldana, pende uma corda com uma tira de tecido amarrada na extremidade. O pedaço de pano denuncia a paixão de Fernando pelo São Paulo Futebol Clube, estampando parte da bandeira do time. E é com esse “equipamento” que o rapaz acessa seu computador, apoiando o braço na tira e mexendo quase imperceptivelmente o tronco para frente e para trás; é suficiente para um de seus dedos clicar em um mouse adaptado pelo pai com cola quente, cano de PVC e tampa plástica para apoio, comandar o teclado virtual por número de cliques e navegar pela web.
Fernando gosta de se manter informado, de aprender coisas novas. Além da internet, assiste na televisão tudo o que pode sobre fatos históricos, de novela a documentários. “Gosto de saber sobre lutas sociais do passado. Quanto mais informação você tem, mais pode ir atrás dos seus direitos”. Durante toda a conversa, pontuou suas ideias com referências da vida de pessoas que admira, personalidades tão variadas como o jornalista Tim Lopes, o presidente chileno Salvador Allende e o piloto Ayrton Senna.
Mas são os artistas Pablo Picasso e Alfredo Volpi que causaram uma verdadeira mudança na vida da família. Picasso foi o primeiro contato de Fernando com as artes plásticas. Volpi tornou-se inspiração temática - especialmente as clássicas “bandeirinhas” - e de vida: “ele foi um homem generoso e simples. Adotou muitas crianças ao longo da vida”.
O rapaz começou a pintar em 2002 com outros 20 meninos, em um projeto organizado pela equipe de Terapia Ocupacional da ABDIM. Depois, passou a praticar técnicas artísticas em papel, como origami (dobradura), quilling (filigrana com rolinhos de papel) e kirigami (recorte e dobradura). Até hoje produz obras - ora individuais, ora coletivas - na própria instituição. Cada uma exige tempo para ser finalizada, já que sua atual condição motora é bem limitada. Os quadros sempre ficam deitados em uma mesa, para facilitar a colagem dos rolinhos de papel - que ele mesmo corta e enrola com a ajuda de adaptações. Como Fernando não consegue mais inclinar a cabeça, guia-se pelo reflexo de um espelho.
Em casa, o ritmo é outro. Há dois anos, são as mãos do pai que dão forma às ideias do filho. Quase todo dia eles trabalham nos quadros, sem lugar fixo na casa. “Tem vezes que estou alimentando o Fê com uma mão, e com a outra estou colando os rolinhos”, sorri Ivan, que trabalhou como mecânico de carro até se aposentar, mas desde os doze anos esculpe de maneira artesanal os mais diferentes objetos em madeira.
O sofá da sala virou uma galeria de arte, quando pedi para ver o resultado da parceria. Foram mais de 15 quadros que o pai foi desembrulhando e distribuindo pelo assento e encosto do móvel, enquanto me explicava os temas e técnicas escolhidos. “Os projetos surgem da cabeça do Fernando ou de algo que caçamos da internet”.
Fico intrigada com um enorme rosto feminino, muito colorido, pendurado em cima da televisão. “Esse é pura criação. Queríamos representar a deusa da natureza, e partimos da grega Gaia. Resultou nessa figura com cabelos vegetais que, para povoar os rios, chora peixes no lugar de lágrimas.”

Esporadicamente conseguem vender alguns de seus quadros. A maioria é doada. Um ficou para o Memorial da América Latina em São Paulo, como agradecimento pela exposição “Arte em Papel” organizada pela ABDIM com trabalhos de vários meninos. Outro foi para o bingo do Colégio Harmonia, de São Bernardo do Campo, que há 10 anos reverte a arrecadação em uma festa de fim de ano para distróficos e suas famílias. “O dinheiro do quadro pagou uma barraca de churros! Colocaram até uma faixa com o nome do Fernando”, orgulha-se Helena.
Fernando diz que quer estimular outros meninos a produzir arte. Para isso, pretende reverter todo o dinheiro que ganhar com seus quadros para fundar e manter uma ONG, que já tem até nome: GAAPDIM ou Grupo de Amigos da Arte Portadores da Distrofia Muscular.
***
Na terceira vez em que nos encontramos, Davi enrolava tirinhas coloridas, de forma minuciosa, com outros três meninos, de diferentes idades. De rolinho em rolinho, surgia o chapeleiro maluco, personagem de “Alice no País das Maravilhas”.
Enquanto estava entretido com o quilling, pude conversar com sua mãe a sós. “Nunca cheguei a realmente falar com o Davi sobre a doença”, explica Carmen, “mas já comentei na frente dele que distrofia mata. Por que eu vou ficar escondendo a realidade?”. Nesse momento, estamos sentadas em um corredor externo da ABDIM, rodeadas por outras mães, acompanhantes e pacientes que não tiram os olhos e ouvidos de nós. “Ele convive com outros distróficos, e deve ter notado a evolução da doença. Embora eu não saiba se a ficha realmente tenha caído”.
Lembra-se do filho ficar realmente triste apenas quando foi para a cadeira, aos nove anos e meio, depois de passar 45 dias imobilizado por conta de uma fratura na tíbia após uma queda. Parado, o joelho atrofiou e ele ficou com medo de tentar andar de novo. Carmen o consolou dizendo que ele precisava ser forte. Nunca mais viu Davi “amuadinho”. Apenas nervoso e irritado com algumas das limitações. “Ele tem a doença, mas a vida continua. Eu não acho que esteja perdendo ele aos poucos. Está vivo. Está aqui e estou cuidando dele, lutando contra a distrofia até onde eu consigo.”
Suplemento de cálcio, vitamina D, Adtil, Label, Proepa, Ritalina, Carvedilol, Deflazacort. Os nomes vieram como uma cachoeira, enquanto Carmen explicava quais dos remédios que Davi toma regularmente são distribuídos pelo SUS ou pela ABDIM e quais ela mesma precisa comprar. De todos, o Deflazacort é o mais polêmico.
Dentre as principais medidas terapêuticas adotadas por especialistas em distrofia de todo o mundo, está a corticoterapia: o uso precoce, diário e contínuo de corticosteroides para fortalecer os músculos responsáveis pelas funções cardíaca e respiratória. De todas as substâncias, o Deflazacort é o que apresenta os melhores resultados. Mas não é distribuído pelo SUS.
Carmen já tentou recorrer à justiça para que a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo incluísse o medicamento na lista de remédios gratuitos. Chegou a anexar um relatório redigido pela médica Ana Lucia que explicava a especificidade benéfica do remédio para distróficos. O governo alegou que a rede pública já distribui um medicamento similar e mais barato chamado Prednisona, e o caso foi encerrado.
O problema é que a Prednisona e outros corticosteroides causam os mesmos efeitos colaterais mas de forma mais intensa que o Deflazacort, como depressão, problemas comportamentais, atraso no crescimento, perda de massa óssea e hipertensão arterial. Além do aumento do apetite, um problema grave para mais da metade dos distróficos que já tem tendência natural de engordar e pouco se movimenta, por conta da cadeira de rodas. Davi, por exemplo, já tem triglicérides e colesterol altos e precisa controlar as taxas com uma dieta especial sugerida por nutricionista.
Há muitos estudos em curso em todo o mundo envolvendo as distrofias musculares. Dentre os tratamentos que buscam a cura, há terapias gênicas para corrigir ou suprimir erros no gene da distrofina, terapias com o uso de células saudáveis de possíveis doadores, estudos com ciclos proteicos, uso de medicamentos já utilizados em outras doenças ou até de substâncias naturais como as obtidas do chá verde. Mas, por enquanto, as famílias só podem contar com os tratamentos que melhoram a expectativa e a qualidade de vida desses meninos.
***
“Pode colocar aí na sua reportagem: a pior parte de ter um filho especial é ver a família correr”. Gerson não foi o único a desabafar sobre o contínuo distanciamento dos familiares à medida que a distrofia da criança evolui. Ouvi coisas parecidas de todos com quem conversei, e o principal motivo que apontaram seria a falta de paciência e sensibilidade para acompanhar um ritmo de vida diferente.

De todos os parentes, além dos pais, Fernando só contava com os avós, já falecidos. Tios, primos… ninguém aparece. “Eles têm medo”, diz o rapaz, ao que Ivan emenda: “não esperamos por uma ajuda em tempo integral e nem financeira. Queremos companhia, presença espiritual, moral”. Há ainda a desinformação que incrimina. Frases sussurradas como “se essa criança estivesse sob os meus cuidados, não estaria nesse estado” são ouvidas com frequência.
Os olhares dos outros também são um desafio. Por muitos anos não foi só Fernando que achou difícil lidar com isso. Seu pai também levou um tempo para se acostumar. “Mas depois você entende que isso acontece porque as pessoas não veem com frequência pessoas como meu filho”, conclui Ivan.
Quanto à Elisangela, lembra que na rua estranhavam que João Pedro estivesse em uma cadeira de rodas, quando podia mexer pernas e braços. Olhavam. O filho esbravejava: “nunca viu não?”.
Ele parece ter se incomodado pouco com suas limitações durante a vida. Para a mãe, isso aconteceu porque o menino tinha uma vida bem normal. Ia para a escola, para o cinema, viajava. Sentia-se incluído. Quando isso não acontecia, respondia à altura. Ao professor que o excluiu de uma atividade: “você não sabe dar aula!”; ao colega que tirou sarro na aula de Educação Física: “essa palavra ‘não consigo’ não existe!”.
E os gêmeos? Durante toda a tarde em que conversei com Carmen, na casa da família, Davi e Daniel não pararam de jogar videogame. Falavam sobre ataques, lances, tiros e fugas. Riam alto, voltavam a discutir. Em um breve intervalo, quando a mãe foi buscar um copo d´água, perguntei para os dois o que mais gostavam de fazer juntos. Daniel, muito mais desinibido, disse ser difícil encontrar brincadeiras conjuntas. Ou é videogame, ou é jogo de tabuleiro. “Chamo outros amigos para brincar de bola e andar de bicicleta, e o Davi sempre quer ir junto pra ficar olhando. Ele é tímido, mas depois se solta e dá muita risada! Sabe empinar a cadeira e às vezes a gente sai correndo empurrando ele”.

Carmen acredita que, para Davi, ter um irmão é um ponto positivo. É uma companhia para brincar, para aprender a dividir as coisas. “O fato do Daniel não ter a distrofia pode até ter um lado negativo, do Davi ver o que não pode fazer”, reflete a mãe, “mas acredito que funciona muito mais como um estímulo, para fazer os tratamentos, por exemplo, e como uma forma de incluí-lo. Acho importante ele ter contato com pessoas que andam.”
A questão da inclusão é um tema que recorrentemente volta à discussão no Brasil, em especial sobre o tema Educação. A legislação garante a todos o direito de frequentar regularmente uma escola, sem qualquer descriminação. Além disso, prevê atendimento especializado a crianças com necessidades educacionais especiais, no próprio ensino regular. No estado de São Paulo, por exemplo, é esperado que até 2014 todo aluno com deficiência - física ou mental - tenha o acompanhamento de um profissional cuidador específico à sua necessidade para auxiliar os professores da rede pública de ensino graças à ratificação de um recente Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Em âmbito nacional, há um Projeto de Lei tramitando na Câmara dos Deputados - PL 8.014/10 - que pretende deixar explícita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei9.394/96) a obrigatoriedade de cuidadores em toda escola regular. O problema é ver as leis serem cumpridas.
Elisangela relembra das duas escolas particulares que recusaram receber seu filho. A primeira, totalmente adaptada, disse que não tinha professor preparado. A segunda alegou que o prédio não era adequado. “Sabíamos que elas tinham obrigação legal de aceitar o João. Mas não quisemos matricular nosso filho em um lugar onde não seria bem-vindo”. Esse cenário leva muitos pais a um grande dilema: abrir o jogo sobre as condições reais do filho ou revelar apenas uma parte das complicações para evitar que não sejam aceitos.
A lei 7853/89 define como crime recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. Como se vê, já houve tempo suficiente para que as escolas tenham capacitado professores e adaptado sua estrutura física e proposta pedagógica para receber qualquer tipo de aluno.
Elisangela, que é professora da rede pública de ensino, acha que as escolas do governo estão mais preparadas no quesito inclusão do que as particulares, com relação à estrutura, como rampas, cadeiras e banheiros adaptados. Mas a falta de qualidade do ensino e o excesso de alunos na sala de aula, incluindo os que têm deficiência e demandam mais do professor e do cuidador - na maioria das vezes despreparados - são graves entraves. “Essas crianças especiais acabam sobrando, ficando de ouvintes”, lamenta.
***
Há dilemas éticos em quase tudo que diz respeito às doenças genéticas. Um dos que o Genoma Humano enfrenta, por exemplo, são os diagnósticos pré-natais em mães portadoras, feitos com a coleta do DNA do feto. Afinal, caso uma grávida descubra que seu bebê terá uma doença grave, o que ela poderá fazer? Atualmente, o aborto só é permitido no Brasil em casos de estupro ou gravidez que ponha em risco a vida da mãe. Se decidir interromper a gravidez, agirá na ilegalidade. Por outro lado, se o diagnóstico indicar que o feto é saudável, será uma maneira de prevenir um aborto no caso de uma mãe que inevitavelmente tiraria caso fosse uma criança com doença genética. Pela complexidade do assunto, a instituição realiza esse tipo de análise em casos muito particulares.
Em artigo publicado na revista Science em 2005, Mayana Satz defende o direito das mães grávidas de fetos com doenças graves poderem abortar. A pesquisadora acredita que a decisão deve caber à mulher, que será responsável pela criação de uma criança gravemente incapacitada.
O Genoma Humano mantém uma rotina de aconselhamentos não só dos distróficos, como também das mulheres que não desenvolvem a doença, mas são portadoras. Para a instituição, elas devem estar cientes de que correm risco de terem filhos com problemas graves e se sentir encorajadas a planejar seu futuro, às vezes abrindo mão da maternidade. Ou recorrendo à adoção.
“Se eu soubesse na época que tinha a doença, não teria engravidado”, assegura Elisangela. Ela e o marido moram em Itaquaquecetuba (SP), em um sobrado comprido de dois andares e quintal arborizado. Toda a vida familiar se concentra no térreo. O segundo andar foi planejado para os pais de Gerson. Por enquanto, é onde fica parte dos brinquedos de João Pedro que Elisangela não quis se desfazer - além de alguns livros, cadernos da escola, cartinhas, fotografias e roupas “com o cheirinho dele”, incluindo as que estava usando quando faleceu.
O casal sonha atualmente em ter outro filho. “Dizer que adoção é a solução para o risco que corro ao engravidar não faz sentido. Afinal, não há qualquer garantia que a criança adotada seja saudável”, esclarece Elisangela. Fazem planos de recorrer ao chamado Diagnóstico Genético Pré-Implantacional (DGP), um método adicional à fertilização in vitro que permite às mães portadoras de doenças genéticas terem crianças normais a partir da seleção de embriões saudáveis. Somente clínicas particulares oferecem o serviço, a um alto custo. No caso da reprodução assistida oferecida pelo SUS, é possível apenas fazer a escolha do sexo, o que bastaria para evitar o nascimento de um menino com DMD. O fato de serem evangélicos não os impediu de concordarem com o DGP: “não temos o direito de tirar uma vida. Mas para nós, ela só começa no útero da mãe”.
A busca pela cura das doenças genéticas também é uma questão polêmica. Parte das pesquisas mais promissoras avança em todo o mundo graças ao uso de células-tronco embrionárias, extraídas de embriões humanos e que têm capacidade de dar origem a células de qualquer tecido do corpo. No Brasil, as pesquisas e terapias nesse campo são permitidas desde 2005 pela Lei de Biossegurança (11.105), que autoriza apenas o uso de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, contanto que sejam considerados inviáveis ou estejam congelados há pelo menos três anos. “São células que seriam descartadas. Então por que não aproveitá-las?”, diz Elisangela.
Ainda mais delicada é a questão dos pacientes que se recusam a usar os aparelhos para respirar. “Quando são adultos e têm consciência da decisão, não podemos fazer outra coisa além de respeitar”, declara Ana Lucia. A médica diz que quando são pacientes adolescentes, mais preocupados com a vaidade e conforto do que com a saúde, é mais difícil lidar. A maioria acaba cedendo quando começa a ter muita falta de ar. O problema é que, nesse meio tempo, o paciente está correndo um risco maior de exceder os limites do corpo e adoecer.
Por volta dos 20 anos, Fernando entrou em depressão. Em um só ano, lembra de ter perdido cinco amigos com distrofia. “Alguns deles cansaram de lutar. Um se recusou a ir para a ventilação”. O rapaz encontrou estímulo para não se resignar com o Grupo de Jovens de uma igreja. Recentemente voltou a estudar por conta do projeto Escolarização que funciona na ABDIM. Acabou de ser aprovado na prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), recebendo um comprovante de conclusão do Ensino Fundamental. Considera este apenas o primeiro passo para realizar o sonho de se formar em História.
“Como conseguimos lidar com tudo isso, durante anos, sem pausa? Não é nada fácil. Só tendo um amor muito forte um pelo outro e uma enorme convicção em nossas responsabilidades”, diz Ivan.
***
Davi é muito brincalhão e alegre. Mas muito tímido. Nas três vezes que o encontrei, sempre que eu perguntava algo, ele olhava para a mãe ou para o irmão e dizia de forma manhosa: “- Eu não sei... fala você, vai...”. E lançava para mim um olhar e sorriso doces.
Apenas no nosso terceiro encontro, quando saímos da sede da ABDIM para passear um pouco em uma rua arborizada dentro do campus central da USP, consegui vê-lo falar mais. Pedia para a mãe empurrá-lo para perto de algumas árvores, identificando-as pelos frutos que elas produziam. Mamão, goiaba... Segurava na mão um galho pequeno, disforme, que pendia pela cadeira de rodas, tocando o chão.
- Mãe, me leva na árvore do fruto verde?
- Que árvore, Davi?
- Aquela lá na frente.
- Qual delas? Que fruto é esse que você tá falando?
- Um grande. Verde-musgo.
- Mas a gente nunca foi até lá. Como você sabe que árvore é?
- Me leva!
É uma jaqueira. Carmen ri do próprio esquecimento. Já tinham visto ela antes. Com memória de criança, não se brinca.
Antes de entrar na van adaptada para voltar para casa, Davi tem que abandonar o galho. “Você foi muito corajoso”, ele diz em voz alta, enquanto larga o frágil pedaço de pau no chão.