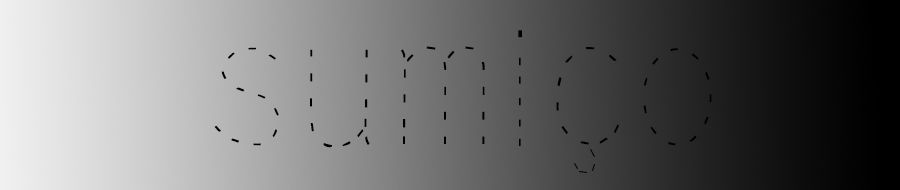O olhar de Ana está fixado no horizonte de pedra da Avenida Paulista. Batendo de frente contra o vento que corre, Ana anda avoada, quase sem forças, sem prestar atenção ao trânsito, ao barulho dos carros, às pessoas que passam aos montes. Nada tem graça, cor, vida. O mal estar é tremendo. Vem aquela angústia, aquela vontade de chorar sem parar. O Reserva Cultural, espaço conhecido de quem curte cultura em São Paulo, chama a atenção da jovem apaixonada por arte, que resolve entrar. Ela senta, fixa o olhar no nada, perde o fio do pensamento. A sensação de que ninguém compreende o tamanho da sua dor é permanente. Nada ameniza a raiva ou a tristeza. A atendente se aproxima e pergunta: vai querer o que? Ela responde: um chá de sumiço.
Pode confessar, você já disse alguma vez na vida “quero me matar”. Para a maior parte das pessoas, a frase é uma maneira de expressar que o dia está sendo terrível, que está tudo dando errado e que seria maravilhoso se ver livre dessa situação pavorosa. É um sentimento passageiro. Mas para muita gente não é assim. Todos os dias, cerca de 26 brasileiros tiram a própria vida, segundo pesquisadores do Laboratório de Estudos sobre a Morte (LEM) do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, nos últimos 45 anos, o número de suicídios aumentou em 60%. Desses casos, 90% estão relacionados a transtornos mentais. Ou seja, poderiam ser evitados com o diagnóstico e o tratamento. Mas o problema é cultural: quem tenta o suicídio e sobrevive passa a conviver com o julgamento alheio, com o rótulo de gente “fraca”, que desistiu da vida. É justamente esse tipo de comportamento que inibe que as pessoas busquem ajuda. E como você vai ver ao longo desta reportagem, é preciso mudar esse paradigma para diminuir as estatísticas.
O apoio na hora certa pode salvar uma vida. É por isso que aqui, leitor, nós fazemos um pacto: sua opinião sobre os suicidas, seja ela romantizada, neutra ou condenatória, para neste parágrafo. Nas próximas linhas, é melhor deixar de lado tudo que você ouviu por aí sobre eles. Dê uma chance honesta a quem já quis morrer (e hoje não quer mais) e escute o que um deles tem a dizer sobre o que leva alguém ao suicídio e o que você pode fazer para mudar isso.
A personagem que você conheceu no começo desta reportagem é uma dessas sobreviventes. Ela planejou centenas de vezes o “sumiço” e chegou a pôr os planos em prática por duas vezes. Por sorte, as tentativas de suicídio não deram certo. Enquanto matava a fome com um sanduíche sem “bicho morto” e um suco de tangerina em um bar de Moema, a diretora, roteirista e atriz Ana Maria Saad conta como foi passar pela experiência de quase deixar de existir. “Essa coisa do sumiço é uma saída para o mal estar. Eu era meu próprio inferno. O sumir é realmente não existir, é cessar de existir. Sabe aquela coisa de desenho animado, que tem ‘plum’ e aquilo some? Era mais ou menos isso. Sumir é acabar”.
Quem olha para a Ana não imagina que ela possa ter sofrido de uma tristeza tão profunda. Pura bobagem. Os olhos vivos e inquietos, o rosto bonito, o sorriso aberto… nada disso tinha como impedir uma doença de se manifestar. Ela foi diagnosticada com depressão bipolar. Veja bem, não era frescura, não era mimimi. Era doença. A Ana fez parte das cerca de 350 milhões de pessoas no mundo que são depressivas. Entre elas, apenas uma minoria acaba tendo a “versão” mais grave da doença. Destes, 15% cometem o suicídio.
No caso da Ana, todo o sofrimento foi resultado de anos de anulação por parte de uma família disfuncional. Dos primeiros anos da infância, ela lembra de fazer ballet, francês, e de brincar no jardim grande da casa onde morava com a família, em Ourinhos, cidadezinha do interior de São Paulo, bem “provinciana”. Aos oito anos, começou a demonstrar agressividade. Arrancava os cabelos, tinha perturbações, vivia em pânico.
O pai era o motivo de tanto medo. Médico ortopedista conhecido na cidade, ele sofria de compulsão sexual. Em uma época, chegou a ter oito amantes ao mesmo tempo, que telefonavam para a família constantemente, mandavam cartas anônimas. A esposa, também médica, preferia fingir que nada acontecia. Foi a maneira que encontrou para garantir a unidade da família e do casamento. Mas o descontrole do pai e a negligência da mãe afetaram o filho e as três filhas. Ana conviveu com as torturas psicológicas, com as agressões físicas contra a irmã que era “saco de pancada”, com as grosserias proferidas contra a avó materna. Surgiu nessa época a vontade de ficar invisível.
Em um dos momentos mais tensos da pré-adolescência, o pai mudou para um canal pornô enquanto a menina assistia à televisão e se masturbou na frente dela. “Eu sabia que era errado meu pai espancar a minha irmã, meu pai me bulinar”, conta Ana. “Só que, ao mesmo tempo, o dia em que ele bateu punheta na minha frente e eu fui falar com a minha mãe, a reação dela confirmou que eu tava errada de achar que isso é errado. Ela fingiu que nada aconteceu. Nessa época eu já tava com 12 anos, já tinha vivido em pavor anos e anos, e meu pavor era ser estuprada. Eu já tinha isso claro. Que um dia esse cara vai estar nu, e ele vai me estuprar porque ele é louco. E ao mesmo tempo, não. Porque a louca sou eu. Porque quando eu levo isso pros adultos, os adultos me ignoram”.

Foto do filme "SS de Beauté – A Beleza da AutoSuperação”
A falta de apoio dos familiares foi tão importante para que ela desenvolvesse a doença e quisesse se matar quanto o abuso em si. O estado de negação em que a família vivia forçava Ana a reprimir tudo aquilo que sentia. “Quando você passa por coisas que você não pode expressar, você está se massacrando. Isso que é a doença. Isso que fode com a autoestima. É você não ter o direito de ser”, conta. “Eu não fiquei doente por causa de mim. Adoeci por causa de adultos que não estavam conscientes”.
Aos 16 anos, com a “debandada” dos irmãos que saíam de casa para cursar faculdade em outras cidades, botou na cabeça que queria fazer o 3º ano do ensino médio em Curitiba, onde uma das irmãs estava morando. Foi nesse período que teve a primeira grande crise de depressão. Embora tivesse um lado curioso, cheio de vontade de conhecer o mundo, a doença a arrastava para um ciclo de culpa, principalmente, por não conseguir encontrar forças para estudar e trabalhar. Sem o diagnóstico, ela achava que era apenas preguiçosa.
Na hora de escolher a faculdade, Ana queria fazer cinema. A mãe “veio com aqueles papos de pai que não tá entendendo porra nenhuma do que é criar filho”, disse que aquilo não dava dinheiro e convenceu a filha a fazer hotelaria. “Eu já tava tão mal que falei ‘ai, foda-se’, vou fazer o que ela quiser”. Sem interesse nenhum pela carreira e sem forças para lutar pelo que queria, mudou-se para Águas de São Pedro para fazer o curso. Foi quando a depressão piorou de vez.
Ana passava as aulas dormindo ou tendo crises de choro, que não conseguia controlar. Ela estava “na merda”, como ela mesma diz, deixando escapar um “r” bem puxado, do interior. Os pensamentos suicidas passaram a acontecer com freqüência, e o mal estar ficava cada dia mais forte. Um dia, saiu da sala de aula e encontrou na biblioteca da faculdade, sem querer, uma revista que falava sobre depressão. Rolou uma identificação à primeira vista. Todos os sintomas se encaixavam. A questão agora era como contar para a família que o que ela tinha era uma doença.
“Sempre ouvi minha mãe falar que tudo era ‘psiquite’, que psicologia era besteira. Então eu tinha aquela coisa de ‘como que eu faço?’ Nessa época, até liguei pro meu pai pra tentar falar com ele. Mas ele também não me atendeu”, relembra Ana. “E aí, comecei a fingir que tava tudo bem. Eu ia pras festinhas e enchia a cara, vivia aquela vida de faculdade de quem não quer nada com nada”, completa.
A situação continuou até o dia em que Ana teve uma crise de pânico em uma festa. Uma amiga, que nem sabia dirigir, a levou embora de carro, parou em um orelhão e deu um ultimato “não quero nem saber que horas são, foda-se, você precisa ligar pra sua mãe agora”. Ela ligou.
Depois de contar para a família que precisava de tratamento, se afastou da faculdade e finalmente começou a frequentar o psiquiatra. Só que a melhora não veio como ela esperava. Os remédios a faziam se sentir como um “zumbi”, a análise não funcionava. Vieram, então, as cobranças dos parentes: “por que você não tá melhor ainda?”.
Por causa do afastamento, boatos de que ela estaria com câncer começaram a circular na faculdade. Até que um dia a história chegou aos ouvidos de um colega de turma da mãe, que ficou preocupado. Pelo telefone, ela tranquilizou o amigo: “Não é câncer não, é só uma depressãozinha”. Para a Ana, ouvir aquilo foi a confirmação de que ela realmente deveria sentir culpa por estar doente, o que não ajudou em nada o processo de recuperação.
Diante da pressão pela melhora, ela decidiu fingir que a doença tinha aliviado. Voltou a frequentar a faculdade, tentou remédios diferentes, com doses diferentes, fez mais terapia, foi atrás de psicólogos. Nada adiantava. Na peregrinação entre os consultórios, encontrou muita gente despreparada. De uma psicóloga, ouviu “Você é tão bonitinha, né, tem tudo. Por que você tá assim?”. Passou por psiquiatras que nem a olharam nos olhos, mesmo quando ela estivesse aos prantos, no meio de uma crise. A recomendação médica era “toma esse remédio e vai nessa psicóloga”.
A esperança de que os médicos dessem um jeito na doença enfraqueceu com o passar do tempo. Ela passou a acreditar que era um caso sem solução. Até que um dia tomou todos os remédios tarja preta que tinha em casa, encheu a cara e esperou pela morte. Por sorte, - ou como diz a Ana, “como vaso ruim não quebra” - ela vomitou tudo.Foi um ato de desespero, de impulso, por não aguentar mais tanto mal estar. Depois de uns meses, tentou o suicídio de novo, mais uma vez sem sucesso. Ninguém ficou sabendo das tentativas. A mãe só descobriu um ano depois, no meio de uma briga.
“Eu lembro que ela chorou muito. Mas a minha mãe tinha esse sistema de não encarar as coisas. Do mesmo jeito, eu fingia que nada tava acontecendo, uma negação total da realidade. Era como se eu nunca tivesse tentado me matar. Tanto que eu me dei conta, mas ainda fiquei uns dois, três anos, fingindo que não tinha acontecido nada. Pra daí encarar que essa é a minha história: eu tenho uma doença, eu tentei o suicídio, eu não tive apoio, sofri. Eu demorei muito pra me apropriar, pra me assumir, sabe?”, relata Ana.
Durante uma sessão de análise, ela ouviu a pergunta que marcaria o começo da reviravolta na sua luta contra a doença. “Ana, você tá tentando. Uma hora você vai conseguir. É isso mesmo que você quer? Você quer morrer?”, questionou a médica. “Aí eu entendi. Eu não queria morrer. Eu tava procurando uma saída pro mal estar que eu sentia. Eu não queria a morte. Não era isso. Eu amo a vida e acho que eu fui entender isso muito depois”.
Ana resolveu usar tudo o que tinha a disposição na época para se curar: gastou uma “fortuna” com tratamento, fez terapias individuais e de grupo, chegou a ter seis terapeutas ao mesmo tempo. Ela diz que não foi um processo fácil. Ainda mais pela falta de interesse dos familiares em participar da recuperação. Mas esperar de braços cruzados pela próxima crise não era mais uma opção.
Os remédios receitados pelos psiquiatras só fizeram o quadro de depressão bipolar piorar. Por ter um organismo supersensível, reagiu mal à medicação e teve que parar. “Acho que um médico tem que ser humano o suficiente e ter estudado o suficiente pra saber esse tipo de coisa, que esse paciente talvez não aguente essa bomba, como foi o meu caso”, critica.
Apesar de não ter funcionado no caso dela, Ana reconhece que alguns medicamentos são importantes para controlar pessoas que estão em surto. “Às vezes a pessoa está refém daquela mente louca e tomar um remédio pra dormir realmente vai ajudar. Isso tudo é usado pra ajudar a pessoa”, argumenta. “O que se faz hoje em dia, principalmente no Brasil, é enganar o paciente que, tomando o remédio, ele vai ficar bem. Isso é uma mentira. Ninguém fica bem só com remédio e ninguém fica bem só com terapia”.
Não é só a Ana que pensa assim. Uma área de saúde que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos é justamente a medicina integrativa, que busca implantar uma proposta de tratamento em que o paciente é considerado como um todo, ou seja,como corpo, mente e espírito. O Dr. Paulo de Tarso Lima, médico e cirurgião há mais de 15 anos, mestre em Medicina pela Universidade de São Paulo, é um dos pioneiros da área no Brasil. Ele explica, em entrevista para a International Myeloma Foundation LatinAmerica, que a medicina integrativa é uma abordagem médica que tem como foco a questão da cura. “Cura não é meramente a ausência de doenças, e sim um estado de bem-estar. Ou seja, o paciente pode estar convivendo com uma doença e estar vivendo o momento de cura”.
Para alcançar essa cura, a medicina integrativa lança mão de todas as terapias complementares que a ciência já provou que podem ajudar o paciente, Alguns exemplos são a ioga, a homeopatia, massagem terapêutica, fitoterapia, reiki, técnicas de respiração e meditação. A ideia não é excluir a medicina convencional, mas integrar as terapias complementares no tratamento tradicional para devolver aos pacientes a sensação de que eles estão ativamente colaborando para a sua cura. “O foco na integrativa não é defender uma terapia, mas defender o paciente. É defender que ele é detentor dessa capacidade de restaurar a saúde”, afirmou Lima.
Foi exatamente o que a Ana buscou por conta própria na hora de se tratar. Como os tratamentos convencionais não surtiam efeito, ela foi atrás das técnicas terapêuticas complementares. Testou acupuntura, alopatia, fitoterapia e medicina chinesa. A acupuntura ajudou, mas não era o suficiente. E os remédios faziam mal ao organismo sensível, que não conseguiu se adaptar a nenhum tipo de medicamento.
Em meio às tentativas de encontrar soluções para seu mal estar, conheceu os ensinamentos de um indiano que abriram a sua mente para a meditação. Ele dizia, entre outras coisas, que algumas pessoas passam por fases na vida em que “ou elas se matam, ou elas enlouquecem, ou vão meditar”. A mensagem se encaixou no que a Ana estava encarando naquele momento. Mesmo achando que meditação era coisa de “místico”, resolveu dar uma chance.
“Eu tinha o maior preconceito e falava que era cética. Não era cética, eu era preconceituosa pra caralho, e cética é uma palavra bonita, que todo mundo usa, então ‘eu sou cética’. É o que as pessoas fazem, muitos médicos, inclusive”, assume, sem rodeios. “O cético duvida, ele vai atrás, ele é curioso, ele busca. O que a gente tem hoje na sociedade é preconceito. E eu tinha com qualquer coisa que não fosse essa corrente materialista, que você ‘toma um remédio e melhora’, aquela coisa bem na superfície”.
Quando começou a meditar, Ana conta que redescobriu as memórias que tinha guardadas. Ela compara o despertar de consciência pelo qual passou com entrar em casa depois de anos de abandono. Quando ela entrou na “casa-consciência”, viu apenas um pequeno cômodo, que era o que sempre conseguia enxergar. Mas depois, durante o processo de autoconhecimento, foi descobrindo um monte de coisa. Descobriu coisas boas, mas também encontrou muita sujeira, muita coisa que não era dela, muito lixo deixado pela família, muitos condicionamentos da sociedade. A cura veio quando terminou de limpar a casa.
Depois da faxina, Ana ocupou seu espaço e acabou se afastando de algumas pessoas da família que se recusam a enxergar até hoje que ela foi abusada pelo pai. A mãe, por outro lado, assumiu os erros cometidos no passado e aproveitou a experiência para aprender junto com a filha.
“O mais importante foi buscar conhecimento. Estudar sobre as doenças, sobre remédio, sobre todas as alternativas que existem.Você acaba conhecendo muita abobrinha, faz parte. Só que sempre tem alguma coisa que você filtra. Acho que o conhecimento é o que liberta”, ela conta. “Existe possibilidade, não precisa ser a morte. Você pode se assumir, que é o contrário de sumir. ‘E isso vem com autoconhecimento, que não é do dia pra noite. Cada um vai ter que achar o próprio caminho e ter muita paciência, porque é um processo em que cada um tem seu tempo”.
Hoje em dia, a Ana canaliza tudo o que acumulou de conhecimento sobre transtornos mentais no Instituto Pensamentos Filmados, uma ONG fundada em parceria com o também ator, diretor e roteirista Geison Ferreira há dois anos. O projeto nasceu do amor pelo cinema e da vontade de fazer um trabalho audiovisual relevante para a sociedade que os dois compartilham. A ONG já produziu o curta-metragem V.I.D.A, o média-metragem Solo, a websérie Jogatina e diversos vídeos explicativos sobre os transtornos que podem ser vistos no canal do Pensamentos Filmados no YouTube (http://bit.ly/IMpNao).
“O cinema é uma terapia. Eu assisti a um monte de filme em que tinha abuso e lembro que tinha crises de choro vendo aqueles filmes, e era muito bom. Era tipo uma catarse. Acho que o cinema traz essa profundidade da psique humana. Porque tem os papéis que a gente interpreta, boa filha, boa moça, o profissional... e o cinema chacoalha tudo isso. Ele leva você pro centro da coisa”, diz Ana.
A grande dificuldade agora é conseguir patrocínio para o projeto, já que a maioria dos transtornos ainda não é vista pela sociedade como doenças de verdade. Ironicamente, o objetivo dos vídeos produzidos pela ONG é justamente quebrar o tabu em torno dos transtornos mentais para que as pessoas possam pedir ajuda e receber tratamento sem sofrer com esse tipo de preconceito.

A maior parte das pessoas que entram em contato com o Instituto não tem o apoio da família. Muitos adolescentes pedem ajudam para a ONG porque não sabem como contar para os parentes que estão doentes, seja por medo, por culpa ou vergonha. Como geralmente eles precisam da autorização dos pais para ir ao médico, esses jovens acabam sem acompanhamento psicológico. Não é a toa que a terceira causa mais frequente de mortes entre jovens no Brasil é o suicídio.
“Você tem uma pessoa ali falando ‘eu preciso de ajuda, eu tô na bosta’ e o outro não sabe ouvir. Esse não escutar da outra pessoa pode ser a janela, pode ser a corda, pode ser a arma que a pessoa vai usar pra se matar. Faz toda a diferença você chegar em alguém ‘eu preciso de ajuda’ e a pessoa realmente falar ‘eu tô aqui pra você’, ou ‘eu preciso de ajuda’ e ‘ah, mas isso aí não sei o que...’. Você já sente que tudo é culpa sua, faz parte da doença. E quando você tem certeza disso, você fala ‘então acabou”’, explica Ana. “Imagina que bom, daqui um tempo, as pessoas poderem falar isso sem serem reprimidas? ‘Hoje acordei com vontade de me jogar da janela’. E a pessoa que está ouvindo te dar um abraço, ao invés de ficar com moralismo? É esse nível que eu espero que a gente chegue um dia”.
A falta de apoio da família e dos amigos é uma das dificuldades que os potenciais suicidas, e pessoas com transtornos em geral, enfrentam. Mas existem soluções, como os grupos de ajuda, que servem justamente para reunir pessoas que estão passando pelas mesmas coisas e que vão se identificar com esses dilemas. Muitos atendimentos são gratuitos e existem até grupos online (veja no fim da reportagem uma lista de grupos em que você pode procurar ajuda).
É preciso parar de encarar o suicídio como um tabu. E espalhar por aí experiências de quem conseguiu superar essa vontade de sumir do mundo. Elas existem, a gente só não ouve falar. Transtornos mentais são doenças, que podem ser tratadas e têm solução. Há saída para o sofrimento, basta procurar “fora da caixa”. A história da Ana mostra que, mesmo quando tudo parece estar dando errado, é possível aprender com essas experiências. “Tem fracassos que são muito bons. É tudo uma questão de ponto de vista. Por exemplo, tentativa de suicídio. Fracassar é maravilhoso. Eu tô aqui graças a um fracasso”.
Onde procurar ajuda
CVV
Site: http://www.cvv.org.br/
Telefone: 141
Atendimento: tem postos espalhados pelo Brasil
Terapeutas sem Fronteiras
Site: http://terapeutassemfronteiras.org.br/site/
Atendimento: tem grupos de apoio em Brasília e algumas cidades do estado de São Paulo
Neuróticos Anônimos
Site: http://www.neuroticosanonimos.org.br/#
Atendimento: tem grupos espalhados pelo Brasil
Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos – ABRATA
Site: http://www.abrata.org.br/new/
Atendimento: tem grupos de apoio só na cidade de São Paulo
Associação dos Portadores de Transtornos de Ansiedade
Site: http://www.aporta.org.br/
Telefone: (11) 9-6364-9598
Atendimento: tem grupos de apoio só na cidade de São Paulo