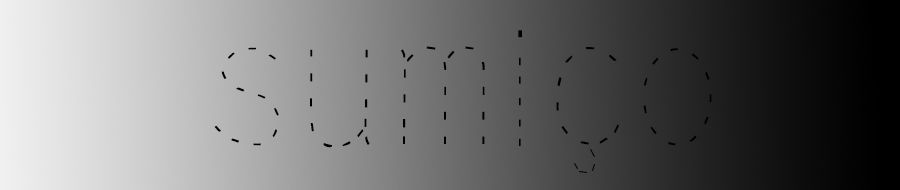Aos 14 anos, Cristiane da Penha José iniciou sua trajetória no mundo do lixo. Ela estava grávida pela primeira vez e começou a recolher latinhas. Hoje, aos 38 anos, é diretora da Cooperativa Mofarrej, que arrecada sete mil reais por mês reciclando o lixo dos vizinhos, na Vila Leopoldina.
Cris, como é chamada dentro da cooperativa, nasceu embaixo no mesmo viaduto onde hoje fica o galpão, na Avenida Dr. Gastão Vidigal com a Mofarrej. Vivia com mais de 50 famílias até que, em setembro de 2000, a favela pegou fogo e Cris perdeu tudo. “O bombeiro contou que foi o meu barraco que queimou, problema na fiação”.
Antes da criação da cooperativa, a área embaixo do viaduto já reunia catadores de material reciclável, mas era motivo de reclamação dos vizinhos. “Era tudo aberto, terra. O pessoal dormia aqui, fazia fogueira”, conta Maria Aparecida Paiva, de 32 anos, uma das cooperadas. Até que começou a ser construído na vizinhança o condomínio “Tribeca”, da construtora Even. Em parceria com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a construtora achou de bom tom dar um jeito na região antes que as visitas começassem. Há quatro anos, construiu o galpão que abriga a cooperativa.
Hoje, quem passa pela Rua Gastão Vidigal vê apenas as paredes de fora do viaduto, pintadas de branco e decoradas com imagens de passarinhos, árvores e cerquinhas bucólicas de fazenda. Ao lado do enorme portão enorme azul, por onde entram os caminhões que recolhem o lixo, cerca de vinte moradores de rua montam suas camas e barracas. Quando um carro da polícia militar estaciona no local, Maria corre e segura um menino, que não deve passar dos cinco anos de idade, brincando com um pedaço de papelão. “Eles passam aqui toda hora, quando veem uma das crianças correndo assim sozinhas levam embora. A mãe está lá, dormindo.”, diz Maria.
O cheiro se dispersa pela amplitude do galpão. Na medida em que avanço pelo espaço, os odores revelam a divisão de setores que separam cada tipo de material: logo na entrada, à esquerda, o hálito de cerveja amanhecida reina entre as garrafas e latinhas de alumínio. Em seguida, o cheiro oxidado das barras de ferro, e, lá no fundo, do material eletrônico. Do lado direito, papelão, muito papelão: solto, prensado, misturado com folhas soltas de jornal, caixas de ovo, caixas de sapato. Por mês, 10 mil toneladas de papelão passam por lá.
Em São Paulo são produzidas 18 mil toneladas de lixo por dia, 10 mil de lixo domiciliar, ou seja, aquilo que você joga fora em casa, no trabalho, na rua. Aquele monte de papelão, saquinhos plásticos, latinhas de coca, catálogos indesejáveis de lojas de sapato e outras tralhas completamente inúteis que você inexplicavelmente vai acumulando – todas essas coisas das quais eventualmente você se desfaz e que vão embora da sua vista, mas continuam por aí.
Pagando as contas
Apesar do nome, a Cooperativa Monfarrej não divide o lucro igualmente: quem cuida das contas é a Cris. Ela negocia a venda com os compradores específicos de cada material e paga o salário dos demais membros: R$5,60 a hora.
Lá trabalham dez pessoas atualmente: cinco homens e cinco mulheres. Os homens saem com a carroça para recolher o lixo. As mulheres separam o material no galpão. Aceitam eletrônicos, papelão, plástico, vidro, alumínio, ferro. Não aceitam isopor, madeira, borracha.
Maria prepara as refeições em uma pequena cozinha à direita da entrada, e deixa claro: “a comida é toda comprada, não pegamos nada do lixo”. Um corredorzinho ao lado dá para um banheiro. Em frente a um sofá velho, uma televisão fica ligada o tempo todo, embora os momentos de descanso sejam breves.
Remexendo os sacos recém-chegados dos vizinhos da cooperativa Mofarrej dá para imaginar a vizinhança: uma caixa de papelão transborda garrafas long neck de cervejas Stella Artois e Heineken. Ao lado, duas garrafas de uísque Black Label, um vinho argentino cabernet sauvignon Angelica Zapata, de aproximadamente 100 reais. Os prédios vizinhos costumam separar o lixo reciclável para que os carroceiros o recolham.
Quando algum dos homens não pode sair, a própria Cris pega a carroça e vai da Gastão Vidigal até a Avenida Imperatriz Leopoldina buscar o lixo dos condomínios. Um dia, enquanto separava o material dos sacos, Cris achou uma seringa de Peróxido de Carbamida, oxidante químico composto de peróxido de hidrogênio e ureia, usado como clareador dental. A seringa estava sem identificação e a agulha, exposta, sem proteção alguma. Cris não usava luvas, que costuma evitar porque esquentam muito. Por sorte, “não deu nada”.
Tem que trabalhar como um animal, não tem jeito
De acordo com o Censo de 2010, quase 80 mil pessoas se identificam como catadores de material reciclável no Estado de São Paulo. Sua renda média é de R$ 646,19. Nos 20 centros de coleta registrados pela Prefeitura de São Paulo são 250 toneladas por dia: número significativo, porém tímido considerando que representa apenas 2,5% do total diário da cidade. Apesar dos números, é difícil precisar o valor total que catadores reciclam por dia, uma vez que muitos trabalham de forma independente e informal, por isso não tem a coleta contabilizada nas estatísticas oficiais.
É o caso de David Vrena, de 60 anos. Apesar da idade, todos os dias ele leva sua carroça por um trajeto que vai de 20 a 30 quilômetros em busca de material reciclável. Encontro-o na Rua Conselheiro Brotero, em Higienópolis. Com um metro e sessenta, barriga saliente, barba grisalha, corrente dourada e um relógio de couro com os ponteiros já parados, David é figura costumeira no bairro de Santa Cecília. “Aqui é o melhor lugar pra pegar lixo”. Ele não para de falar, mas também não perde tempo: enquanto conversamos, recolhe os pedaços de papelão já separados em sacos e deixados em uma caçamba na rua.
Conta que já foi atropelado duas vezes. A primeira, na Avenida Higienópolis. O carro não parou, David apenas levantou e continuou andando.. Da segunda vez, o motorista tentou levá-lo a um médico, mas ele recusou. “Sei lá se ele trabalha pra hospital vendendo caixão”, justifica. “Motorista acha que carroceiro é animal, mas eles é que são, querem a rua só pra eles”.
Com um sorriso mostrando seu único dente incisivo na parte superior da boca, David conta que também já levou choque de alta tensão, ao tentar desentupir um esgoto, quase morreu afogado, tentando nadar em uma represa e quase foi atropelado por Silvio Santos. “Foi lá naquela avenida que eu não lembro o nome, do Pacaembu. Ele já tá quase cego, o Silvio”.
Paulistano, David trabalhou a vida toda com bicos de todo o tipo: pintor, segurança, marceneiro, pedreiro. Há vinte anos, quando deixou de conseguir trabalho, encontrou no lixo sua fonte de renda. Ele dorme no ferro velho de seu patrão, já que seus pais e dois irmãos já morreram e não tem mulher nem filhos. “Não dá pra casar. Mulher quer dinheiro pro gás, pra ir na feira, pra apartamento. Não dá”.
Todos os dias, sai com sua carroça às 7h e segue até 17h. Por semana, tira 250 reais. “Pra ganhar, tem que trabalhar como um animal, não tem jeito”. Ele não mostra interesse em participar de cooperativas com a Monfarrej e tantas outras que a Prefeitura já indicou ao catador. “Não adianta insistir. Em cooperativa boa parte é viciado e drogado”.
Na cooperativa Mofarrej, Cris garante que o álcool e as drogas deixaram de ser um problema. Quando foi criada eram 35 associados. Em pouco tempo, o grupo se reduziu a apenas quatro. Brigas e bebida eram problemas recorrentes. Além disso, a arrecadação era muito baixa e, com o alto número de pessoas, não sobrava muito para cada um, por isso os cooperados pouco a pouco foram abandonando o trabalho.
Hoje, com número estabilizado, ela se diz satisfeita com o grupo e com o trabalho na cooperativa. “Ninguém manda em mim”. Ela vive em um apartamento na Raposo Tavares com seu marido Leonardo, também carroceiro, e seus seis filhos. Em casa, recicla óleo e entrega para um homem que também trabalha com lixo perto de sua casa.
Da Santa Cecília para o Japão
Em uma rua tranqüila perto do Minhocão, na Santa Cecília, um edifício de dois andares chama a atenção. Em meio às plantas que forram a parede da fachada brota uma pequena bancada pela qual as pessoas vêm fazer suas doações: computadores antigos, ferros de passar roupa, micro system, teclados de computador, teclados musicais.
É a Coopermiti, cooperativa que desde março de 2010 recicla apenas material eletrônico. Entre os equipamentos que aceitam estão geladeira, televisão, fita cassete, chapinha, máquina de barbear, esteira de corrida, liquidificador e até vibradores.
Do piso superior, Alex Pereira e a equipe de administração observam todo o funcionamento do galpão. Uma enorme janela dá para o setor onde os cooperados desmontam as peças e separam os materiais. No canto ao lado da escada, uma TV LSD exibe as 20 câmeras que monitoram todo o processo.
O brasileiro gera uma média de meio quilo per capita de lixo eletrônico por ano, o maior valor entre os países emergentes. No entanto, a Coopermiti funciona bem abaixo de sua capacidade máxima de triar 100 toneladas de lixo eletrônico por mês. Atualmente, o volume de doações permite a triagem de 30 toneladas por mês. “As pessoas não tem a consciência de que o lixo eletrônico é um resíduo. Mesmo quando está em desuso, o usuário quer receber algo em troca por ele”, explica Alex.
O caminho das peças vai longe. Os metais ferrosos e não-ferrosos, assim como o plástico, são comercializados com empresas especializadas. Estas são fiscalizadas para confirmar a reciclagem dos materiais. As placas lógicas vão para o Japão. A empresa, chamada DOWA, é uma das poucas no mundo com tecnologia para extrair os metais nobres e raros presentes nessas placas. Por último, os resíduos perigosos são encaminhados para um processo de neutralização.

A ideia inicial de Alex era criar um museu da tecnologia, um túnel do tempo por décadas. Começaram a funcionar em forma de cooperativa como uma forma de reunir acervo para esse museu. Quase quatro anos depois, o museu ainda não foi montado, mas a cooperativa já reúne vinte cooperados.
O projeto começou com quatro fundadores. Deles, só Alex continua na cooperativa. Os demais acabaram por seguir seus respectivos negócios. Para Alex, a maior dificuldade ao longo do processo foi a total falta de apoio. Embora a Prefeitura tenha ajudado, cedendo o galpão onde hoje a cooperativa funciona, além de dois pequenos caminhões para realizar a coleta, falta interesse de fabricantes e grandes empresas, além dos próprios consumidores.
Quando se viu sozinho após a debandada de seus sócios, Alex pensou em fechar o negócio. Continuou, motivado pelos outros vinte cooperados que dependiam do trabalho na Coopermiti. Ele se orgulha dos programas de apoio aos cooperados, com atividades de integração, capacitação técnica e das oficinas de artes, que reaproveitam peças dos eletrônicos.
O acervo do museu continua guardado em um canto do galpão. Entre as peças-xodó de Alex, um Apple da década de 80, de quatro bits e um aparelho de som embutido em um móvel da década de 40. Ele não vê perspectiva do projeto sair do papel.